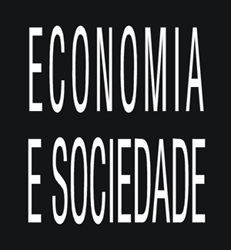Criação e extração de valor das corporações nos Estados Unidos por Lazonick e Shin
DOI:
https://doi.org/10.1590/n2861t56Abstract
William Lazonick possui uma vasta literatura sobre gestão e desempenho corporativo. Trata-se de um dos principais teóricos sobre maximização do valor para o acionista (MVA) a partir de uma perspectiva crítica. O livro foi escrito em coautoria com Jang-Sup Shin e publicado em 2020. Trata-se de uma compilação qualificada do próprio pensamento do autor, somada a novos elementos que se colocam na fronteira do debate sobre gestão corporativa. De forma sintética, porém mantendo a coesão e profundidade do tema, o leitor é convidado a entender o processo histórico de acumulação das corporações e seus desafios na morfologia moderna da corporação norte-americana. O escopo metodológico do livro, com foco nos Estados Unidos, busca evidenciar como a MVA dominou as estratégias corporativas e minou a prosperidade econômica. A linha de raciocínio do livro é mantida durante toda a obra, e está calcada no desequilíbrio entre criação e extração de valor pelos agentes econômicos.
Comum na formulação teórica de Lazonick, o livro inicia pela explicação da mudança da gestão corporativa do padrão “reter e reinvestir” para “reduzir e distribuir”, conceitos difundidos de forma pioneira pelo autor no início do século (Lazonick e O’sullivan, 2000). Trata-se de uma leitura sobre a mudança na forma de alocação de recursos pelas empresas. No primeiro momento estava pautada em reter pessoal e lucros para expandir a capacidade produtiva. No segundo caso, que pavimenta a MVA, induziu a redução da força de trabalho, venda de ativos, terceirização, offshoring e, principalmente, a distribuição de valor aos acionistas na forma de dividendos e recompra de ações.
Uma das questões centrais é mostrar como o processo de MVA ocorreu distribuindo caixa para os acionistas na forma de dividendos e recompra de ações, o que desequilibrou a relação entre criação e extração de valor. Neste sentido, é abordado como executivos corporativos (insiders), investidores institucionais (enables), e hedge-funds (outsiders) respaldaram a MVA levando a extração predatória de valor.
No capítulo dois o livro apresenta a Teoria da Empresa Inovadora como chave para superar o paradigma neoclássico. Nesta teoria a empresa cresce transformando sua estrutura produtiva, gerando produtos que são de qualidade superior e apresentam custos de produção abaixo dos produtos disponíveis anteriormente. Para isso, a firma investe no aprendizado coletivo, que são acumulados ao longo do tempo, para produzir bens e serviços de qualidade superior à de seus concorrentes.
Os autores partem do princípio de que a inovação é incerta, coletiva e cumulativa. Nesse sentido, entendem que a transformação produtiva calcada na inovação depende da combinação de três atividades: alocação estratégica dos recursos, integração organizacional e o compromisso financeiro. Para desenvolver habilidades inovadoras os recursos precisam ser alocados de forma estratégica, integrando toda a organização, e os gestores precisam assumir o compromisso financeiro de manter os investimentos necessários para dar continuidade à dinâmica inovativa, dado que os retornos nem sempre são obtidos no curto prazo.
Lazonick e Shin desenvolvem a ideia de que a teoria da empresa inovadora pode ser analisada a partir de um modelo que combine setores industriais, empresas de negócios e outras instituições econômicas. Na teoria da firma otimizadora, a tecnologia é exógena e definida pelo mercado. Na teoria da firma inovadora, a empresa procura transformar a tecnologia e o acesso aos mercados. Neste sentido, a firma inovadora se depara com a incerteza do processo inovador, ou seja, se a inovação conseguirá gerar condições para desenvolver um produto de alta qualidade que consiga acessar novos mercados, partindo do pressuposto de que os altos custos fixos sejam diluídos dentre os custos variáveis no processo produtivo. Essa construção teórica é retomada em diversos pontos do livro para fundamentar sua crítica à Teoria da Agência.
Segundo os autores, a literatura tradicional sobre finanças postula que a função primária do mercado financeiro é ofertar recursos para o financiamento da capacidade produtiva das corporações. No capítulo três, Lazonick e Shin vão de encontro a esse princípio, afirmando que, na verdade, são as corporações que financiam o mercado financeiro. Para fundamentar essa hipótese, os autores descrevem, historicamente, a separação entre propriedade e controle. A questão principal nesse sentido foi mostrar como essa separação permitiu que o capital das grandes corporações fluísse para os mercados financeiros, pavimentando a liquidez e o crescimento do mercado de ações nos Estados Unidos.
Este capítulo é importante para entender como o mercado financeiro influencia a governança corporativa das empresas norte-americanas. Os autores constroem uma leitura sobre o papel do mercado financeiro através de cinco funções básicas: i) controle: como o mercado acionário afeta a alocação de recursos da empresa; ii) caixa e iii) criação: estão ligadas ao financiamento através de IPO e follow-ons que podem originar capacidades produtivas; iv) combinação, e v) compensação: funções ligadas a liquidez oferecida pelo mercado de ações, que pode, por um lado, viabilizar fusões e aquisições e, por outro, remunerar os agentes e empregados da empresa. Os autores apresentam essas funções para elucidar a capacidade de criação ou extração de valor do mercado acionário quanto instituição.
A conclusão básica sobre a influência do mercado financeiro é de que as suas funções quanto instituição que preza pelo valor ao acionista são responsáveis pela extração de valor das corporações. Essa constatação surge do fato de que o funding que flui do mercado financeiro é inferior ao pagamento de dividendos e a recompra de ações, ambos sustentados pelas corporações. No caso dos dividendos, um pagamento excessivo restringe o investimento em capacidades produtivas. Entretanto, a ênfase dos autores está na recompra de ações, que comprometem parte do fluxo de caixa com o intuito exclusivo em impulsionar o valor acionário. Sendo assim, dividendos e recompra de ações são, segundo os autores, formas de extrair valor das corporações, instrumentalizadas pela pressão exercida pelo mercado financeiro no sentido de maximizar o valor ao acionista.
No capítulo quatro o foco foi a extração de valor pelos insiders e a reorientação dos executivos corporativos. Para os autores, esses agentes perderam o ímpeto industrial atrelado à criação de valor e passaram a direcionar esforços para resultados estritamente financeiros que levam à extração de valor. Mais especificamente, a partir da participação de stock options e stock awards na remuneração de executivos, a alocação de recursos passou a priorizar a valorização acionária da empresa sob um horizonte curto prazista. Dessa forma, modelos baseados em stock options atrelam a remuneração dos executivos a fatores conjunturais, com valores que passam a depender do preço das ações.
Essa dinâmica ajuda a explicar o aumento significativo das recompra de ações, pois, enquanto as stock options remuneram executivos, a recompra potencializa essa remuneração. Portanto, no capítulo, os autores enfatizam a mudança no escopo de atuação dos executivos, que passaram a ser direcionados pelo preço das ações, o que tende a incentivar movimentos especulativos, viabilizando a extração de valor para ganhos do corpo diretivo.
Após descrever o papel dos insiders na extração de valor das corporações norte-americanas, os autores avaliam a conduta dos enables no capítulo cinco, agentes que empoderam os investidores institucionais para influenciar a gestão das corporações. Destaca-se que, ao invés de auxiliar na criação de valor, os investidores institucionais, como fundos de pensão e fundos mútuos, dirimidos pela MVA e motivados pelo guia principal da valorização do portfólio, estão exercendo poder de voto em assembleias sem a devida concepção das atividades da empresa.
O capítulo faz uma recuperação histórica da mudança regulatória que incidia sobre os investidores institucionais. De início, esses agentes eram desencorajados a participar ativamente da gestão das empresas. O New Deal se colocava nesse sentido, e ainda proibia a manipulação de ativos no mercado financeiro a partir de informações internas e a votação em grupo dos investidores (cartéis). Essa tendência se fortaleceu com a Employee Retirement Income Security Act (ERISA). Introduzido em 1974, impedia o comportamento de autonegociação; desencorajava fundos de pensão a assumir riscos elevados e incentivava à diversificação de portfólios. Dessa forma, os fundos de pensão eram pressionados a se abster de decisões operacionais das empresas que compunham o portfólio.
No entanto, grupos organizados passaram a pressionar pela mudança das regras e recomendar um ativismo dos acionistas durante a década de 1980. Os principais proponentes do ativismo dos investidores institucionais eram: fundos de pensão, como o California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) e Council of Institutional Investors (CII), uma voz dos acionistas na governança corporativa; United Shareholders Association (USA), representava o interesse de pequenos acionistas, e o Institutional Shareholder Services (ISS); fundado por Robert Monks, um dos maiores proponentes do ativismo dos investidores institucionais.
A pressão surtiu efeitos sobre a regulamentação imposta pela SEC. O primeiro passo foi a viabilidade da votação por procuração dos acionistas. Posteriormente, se estabeleceram canais de comunicação entre acionistas e a empresa. Dessa forma, investidores poderiam se comunicar se tivessem pelo menos 5% das ações, o que facilitava a atuação em cartéis dos investidores e permitia o envolvimento dos acionistas na gestão das empresas. Esse canal ficou garantido a partir do momento em que investidores puderam divulgar publicamente as posições assumidas em assembleias. Em 2003 o voto passou a ser compulsório, o que pressionou para que os investidores tomassem posições sobre a gestão das empresas, mesmo com um entendimento limitado sobre a natureza e evolução da corporação. A reversão regulatória que empoderou investidores institucionais a decidir sobre a gestão das empresas foi um dos fatores que viabilizaram a extração de valor.
No capítulo seis, os autores discutem como o ativismo dos fundos de hedge impactaram o processo de criação e extração de valor. Além disso, procuram investigar como Carl Icahn torna-se um proeminente ativista de fundos hedge e como suas práticas “ativistas” ajudam a compreender mais a fundo as características e os métodos desta classe de “extratores de valor”.
Lazonick e Shin apontam que a National Securities Markets Improvement Act (NSMIA) de 1996 foi a mola propulsora do crescimento dos fundos hedge. A nova lei isentou os fundos de restrições ligadas ao número de clientes e aporte mínimo. Na prática, levou a uma nova caracterização de “investidores qualificados”, viabilizando a entrada de inúmeros investidores individuais. Após o novo quadro regulatório houve um crescimento expressivo da “indústria de fundos de hedge”. Além desses aspectos institucionais, os autores destacam a introdução do “voto obrigatório” por investidores institucionais; e a introdução da “1992 proxy-rule” que propiciou a formação do cartel de investidores. Por fim, destacam os efeitos negativos desta nova regulamentação, tendo em vista as inúmeras “ofensivas” à gestão corporativa empreendida por estes ativistas.
Segundo os autores, o crescimento da extensão e do poder do ativismo dos fundos hedge chegou a tal ponto que nenhuma empresa nos Estados Unidos estaria imune aos ataques empreendidos por esses agentes. Os autores defendem a ideia de que o profundo conhecimento nos métodos de “extração de valor” e sua prática agressiva impactam no desequilíbrio entre criação e extração de valor em todos os segmentos corporativos da economia norte-americana. Sendo assim, os ativistas dos fundos hedge agem para influenciar a política de distribuição da empresa em favor dos acionistas, estando totalmente alheios às estratégias corporativas de longo prazo que viabilizem a criação de valor no futuro.
O foco do capítulo sete foi uma crítica à teoria da agência focada no ativismo de hedge-funds ao mesmo tempo em que propõe uma teoria da inovação como égide da gestão corporativa. No início do capítulo os autores fazem uma crítica direta à Bebchuk e Fried (2004), principalmente em relação à remuneração baseada em ações como forma de gerar valor. Em seguida avaliam Bebchuk; Brav e Jiang (2015). O escopo principal deste livro é mostrar que quanto maior o poder de atuação do acionista, melhor o desempenho operacional da empresa. Lazonick e Shin questionam os resultados da pesquisa ao avaliar a amostra de empresas utilizada. Os autores advogam que a melhora observada na performance de algumas corporações pode estar relacionada a outros fatores, como o custo de produção e o estágio em que a empresa se encontra. Ademais, os autores citam evidência contrárias na afirmação de que hedge-funds intervenham em empresas para promover investimentos em produtos inovadores.
Em seguida conduzem uma revisão de Fried e Wang (2017). Esse artigo apresenta contrafactuais para a hipótese de que a distribuição de dividendos e recompra de ações tem afetado a capacidade de investimento em inovação das empresas e a provisão de salários competitivos. Essa posição se fundamenta no fato de que as empresas podem financiar essa alocação de recursos através de dívida e emissão de ações. A hipótese de que a distribuição de recursos aos acionistas leva a restrição de caixa e menos investimentos inovativos foi levantada em vários trabalhos de Lazonick (LAZONICK, 2008, 2014, 2017; TULUM; LAZONICK, 2018). No livro, o argumento é de que não é possível inferir diretamente que a novas formas de financiamento tendem a ser canalizadas para os vetores que levam a criação de valor. Por fim, os autores retomam a tônica principal do livro, que baseia a gestão corporativa na criação de valor, e para isso, seria preciso substituir a teoria da agência e a maximização do valor para o acionista por uma teoria da inovação que impulsione as capacidades produtivas das empresas.
No capítulo final, os autores procuram elencar uma agenda que combata o modelo de extração de valor predatório e que restabeleça a prosperidade econômica sustentável. Sendo assim, elencam algumas medidas básicas, tais como: i) mudança regulatória para inibir a recompra de ações no mercado financeiro; ii) mudanças na remuneração dos executivos para incentivar e recompensar a criação de valor; iii) reconstituição dos conselhos de administração corporativos, de modo a incluir representantes das famílias como contribuintes; iv) instituir uma reforma do sistema tributário corporativo para melhorar a distribuição dos lucros àqueles que contribuem com impostos e, por fim, v) reter e redistribuir os lucros para apoiar as carreiras dos colaboradores que geram valor, possibilitando a mobilidade e ascensão das camadas profissionais menos prestigiadas neste segmento.
A combinação dos capítulos permite um entendimento imersivo sobre as transformações que incidiram sobre a gestão das empresas norte-americanas. Os autores deixam claro uma concepção de empresa e gestão que pode levar a uma prosperidade sustentável. No entanto, a principal crítica que pode ser direcionada ao livro é que a combinação das medidas propostas para combater a extração de valor e a concepção de empresa vogam por um padrão corporativo que já não existe mais. Concomitantemente, a compreensão sobre dividendos não leva em consideração o custo de oportunidade e a responsabilidade de remunerar o capital dos investidores. O livro permite o entendimento de temas endereçados de forma isolada conforme cada capítulo, mas a leitura integral permite entender o escopo teórico dos autores na sua totalidade e as suas justificativas.
Published
Issue
Section
License
Authors who publish in this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal the right of first publication, with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License, which allows the sharing of the work with acknowledgment of authorship and initial publication in this journal. Authors are authorized to enter into additional contracts separately for the non-exclusive distribution of the version of the work published in this journal (e.g., publish in an institutional repository or as a book chapter), with acknowledgment of authorship and initial publication in this journal. All content of the journal, except where identified, is licensed under a Creative Commons Attribution BY-NC License.